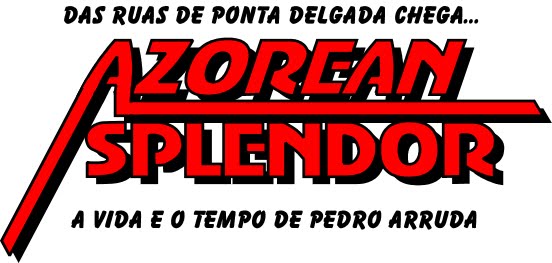Finançocracia Inc.
Na última semana, os meios de comunicação social
efervesceram com o cancelamento do programa Jimmy Kimmel Live!, da
televisão ABC, apresentado pelo comediante norte-americano.
Os comentários giraram em torno da censura institucional, da
ingerência política e das crises da democracia e da liberdade de expressão. Alimentando
a pergunta: que fazer para salvar a democracia?
Os principais estudos recentes sobre esta temática abordam
desde reformas institucionais e defesa da verdade até ações individuais de
cidadania responsável. Entre os destaques dos últimos anos, há livros,
relatórios e manuais que propõem saídas concretas perante a crescente ameaça de
autoritarismo e erosão democrática. Anne Applebaum, uma das mais vocais
defensoras do Ocidente democrático, examina, nos seus livros Autocracy, Inc.
e Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism, como as
autocracias globais cooperam para minar democracias, defendendo a necessidade
de estratégias conjuntas para proteção das instituições democráticas e
mostrando como, na ascensão do autoritarismo contemporâneo, muitos antigos
defensores da democracia foram seduzidos por regimes antidemocráticos.
A literatura recente concorda que salvar a democracia não se
restringe a ajustes institucionais: requer cultura democrática, práticas
quotidianas de tolerância, persuasão e renovação dos laços sociais. Os
trabalhos académicos sublinham ainda a importância das alianças transnacionais
e do combate estratégico à desinformação digital. Mas talvez o compromisso
maior seja o de reconquistar a confiança dos cidadãos nos políticos, nas
instituições e na própria democracia como regime de tolerância, liberdade e
justiça para todos.
Mais do que temer os extremistas ou populistas de ambos os
lados, talvez a melhor forma de reconquistar essa confiança seja através da
transparência e, sobretudo, da justiça social. Um dos problemas mais graves com
que vivemos é a forma como, desde 2008, com a crise financeira global, os
sistemas políticos se subjugaram ao capitalismo selvagem das grandes
instituições financeiras. Salvámos a Banca, mas, com isso, destruímos a Democracia.
Quando olhamos para o cancelamento de um talk show
como o de Jimmy Kimmel, corremos a culpar Donald Trump e o seu pendor
autoritário, mas esquecemos outros protagonistas, que permanecem na sombra,
como Larry Fink ou Peter Thiel.
A cadeia de televisão ABC é detida pela Disney, que, por sua
vez, é controlada em grande parte por gigantescos fundos financeiros como a
BlackRock, a Vanguard e a State Street. Para se ter uma ideia: estas três
empresas gerem, em conjunto, mais de 25 triliões de dólares em ativos, que vão
desde a indústria de armamento à farmacêutica, do setor financeiro aos media e
ao entretenimento. Para comparação, o valor global das economias do G7 está
estimado em 58 triliões.
Independentemente das razões mais profundas para este
afunilar das liberdades civis, e do poder da oligarquia financeira global sobre
as nossas instituições, com tentáculos que vão da alta finança à indústria, à
política e aos media, a verdade é que episódios como este, ou como os que
envolveram outros apresentadores de Late Night, como Stephen Colbert,
fazem temer pela saúde da democracia americana e, por extensão, das democracias
ocidentais.
Talvez fosse bom, antes de culparmos Donald Trump por todos
os males do nosso tempo, pensarmos no papel que estes fundos têm nas partes
mais banais das nossas vidas e na forma como influenciam as decisões das
empresas em que são acionistas: desde a comida que comemos, aos medicamentos
que tomamos, aos créditos bancários que nos esmagam e, finalmente, aos
programas de televisão que assistimos.
Trump ou Ursula von der Leyen são a face visível de um sistema global enfermo e corrompido. Mas quem verdadeiramente puxa os cordelinhos deste teatro de fantoches são figuras como Fink, Thiel e a mão invisível dos mercados. É contra eles que teremos de lutar para salvar a democracia.