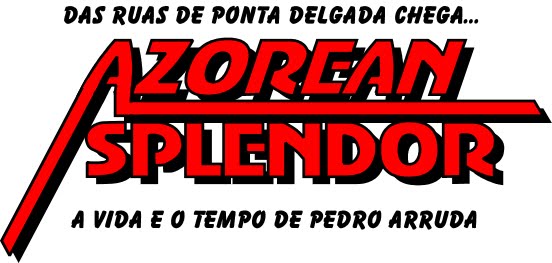O país que merecemos
No início desta campanha eleitoral para as presidenciais,
André Ventura, numa das suas muitas entrevistas televisivas, lançou uma das
suas habituais atoardas dizendo que eram precisos “três Salazares para pôr isto
na ordem”. O “isto”, como é óbvio, era o país. Esta nostalgia de um passado
alegadamente mirífico, iluminado pela figura do velho ditador de Santa Comba
Dão, tornou-se um dos estribilhos centrais de Ventura. O líder da
extrema-direita faz uso dos nossos medos e decepções para vender a ideia, qual
vendedor de banha da cobra do velho oeste, de que naquele tempo é que era bom.
Esta efabulação política constrói-se numa narrativa de um
Portugal ordeiro, pacífico e moralmente puro, sem crime nem corrupção, onde
todos viveríamos numa espécie de paraíso terreal feito de cofres cheios,
bons-costumes e idas à missa. Um país imaginário que serve de contraponto aos presumíveis
desmandos de cinquenta anos de democracia, supostamente um período de
decadência contínua que teria afundado a pátria num pântano de pobreza, caos e
iniquidade.
O problema é que nada disto resiste ao confronto com a
realidade histórica. O Portugal de Salazar era um país estruturalmente pobre,
com um dos mais baixos PIB per capita de toda a Europa Ocidental. Nos
principais indicadores sociais e económicos, o país arrastava-se para o fundo
das tabelas. Em 1970, cerca de 25% da população era analfabeta. Quase 70% das
habitações não tinham duche e mais de 40% não dispunham sequer de instalações
sanitárias. Em 1974, Portugal apresentava uma das piores taxas de mortalidade
infantil do mundo desenvolvido, com cerca de 40 mortes por cada mil
nados-vivos. Hoje, esse número desceu para cerca de 3 por mil. Estes dados, por
si só, desmontam a falácia desse passado dourado.
E nem é preciso entrar nos aspetos mais sombrios do regime:
a guerra colonial que ceifou milhares de vidas, a censura, a PIDE, os presos
políticos, o exílio forçado, a ausência de liberdade de associação e de
expressão, ou a natureza profundamente autoritária, repressiva e iliberal do
Estado Novo.
Ventura e o seu exército de ressentimentos esforçam-se por
apagar essa memória coletiva através de um discurso revisionista que procura
branquear a ditadura à custa da desvalorização da democracia, contrapondo-lhe a
noção vaga e perigosamente divisionista dos “portugueses de bem”. Chegou mesmo
ao ponto de, numa arruada em 2024, afirmar que “era preciso salvar Portugal da
democracia”, corrigindo logo de seguida para “socialismo”, num lapsus
linguae freudiano que diz muito sobre a sua verdadeira intenção.
A democracia é um regime imperfeito e inquieto, que nunca se
dá por concluído e que raramente se autocelebra. Mas continua a ser, e importa
hoje mais do que nunca repetir, o melhor dos maus sistemas. Apesar da
partidocracia, do nepotismo, das portas giratórias entre política e negócios;
apesar das falhas na promessa de prosperidade plena e das crises persistentes
na habitação, na saúde ou na educação, a verdade simples é esta: hoje vivemos
melhor do que há cinquenta anos. E somos mais livres e mais iguais.
Não é por a democracia ter defeitos que a ditadura se torna
desejável. A democracia continua a ser o garante imperfeito, mas insubstituível,
da liberdade, da igualdade e da dignidade, independentemente da origem, da cor
da pele ou da ideologia. Esse é um património político e civilizacional que não
pode ser relativizado nem ameaçado.
É por isso que estas eleições presidenciais assumem uma
importância decisiva. Não se trata apenas de escolher um Presidente. Trata-se
de decidir se cedemos à mentira confortável de um passado inventado ou se
assumimos, com sentido crítico e memória histórica, a defesa do mais
significativo período de progresso e desenvolvimento social que Portugal
conheceu desde o ouro do Brasil. Não estamos apenas a escolher alguém para
ocupar um cargo. Estamos a escolher que tipo de país queremos ser.