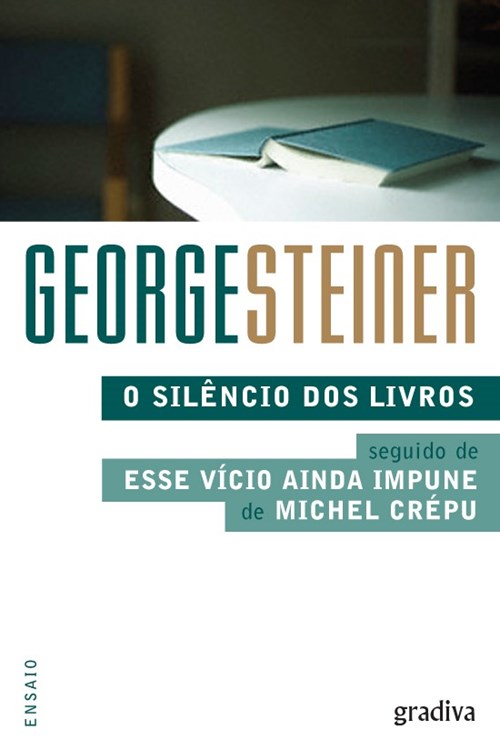Sessão na BPARPDL, a 12 de Dezembro, para uma leitura de “O Silêncio dos Livros seguido de Esse Vício Ainda Impune” de George Steiner e Michel Crépu, edição Gradiva, 2005
Um episódio muito glosado, em
especial nos memes da internet, é o da conhecida antropóloga americana Margaret
Mead. Reza a lenda que quando questionada sobre qual o primeiro sinal encontrado
de civilização esta terá respondido que seria um fémur cicatrizado com cerca de
15 000 anos descoberto numa escavação arqueológica. Este artefacto
constituiria o primeiro sinal de uma sociedade civilizada pelo que testemunhava,
desde logo, de cuidado e abnegação entre seres humanos. Uma fratura do fémur, o
maior osso do corpo humano, levará, no mínimo, 2 meses, sendo que geralmente o
tempo de cicatrização será de cerca de 4 a 6 meses, para uma recuperação
completa. Nesse período é necessário repouso e imobilização o que coloca o
paciente na completa dependência de terceiros para garantir a sua
sobrevivência. Para Margaret Mead seria esta ideia de entreajuda e de cuidado,
representada naquele osso humano cicatrizado, que, para além de indicar a
transição de uma sociedade nomádica de caçadores recolectores para uma
sociedade gregaria e organizada, que permitia, ela mesma, a realização desse
mesmo cuidado, que separaria os hominídeos, ainda demasiado próximos do mundo
animal, de uma humanidade civilizada. Embora não seja possível comprovar que,
de facto, a famosa antropóloga americana, discípula de Franz Boas, um dos pais
da antropologia moderna, e que ficou conhecida pelas suas teorias avançadas
sobre a liberalidade sexual, que vieram a marcar os anos sessenta do século
vinte, tenha realmente sugerido esta teoria a ideia em si não deixa de ter uma
certa beleza poética que a torna extremamente cativante.
Na historiografia clássica o “berço
da civilização” é colocado nas civilizações mesopotâmicas do crescente
fértil sensivelmente 3 a 4 000 anos antes de Cristo, tendo como
características fundamentais a já referida sedentarização, a agricultura e,
principalmente, a escrita, como fatores distintivos essenciais. A escrita em pequenas
tábuas de argila de carateres cuneiformes seria um dos elementos primordiais à existência
da própria civilização, o que, não sem alguma ironia, fazem do grande “Épico de
Gilgamesh” e da cobrança de impostos os primeiros sinais concretos de um mundo civilizado.
No entanto, outros historiadores, em particular no âmbito da História da Arte,
como H. W. Janson, por exemplo, têm sugerido, ao longo dos tempos, que se deve
recuar bastante mais atrás para detetar provas de civilização, tão atrás como
25 a 30 000 anos, que é a data provável dos mais antigos artefactos
artísticos feitos pelo Homem, no longínquo Paleolítico, encontrados até hoje.
Em 1908, na região de Willendorf, na Áustria, a equipa do arqueólogo Josef
Szombathy desenterrou, de um sítio do paleolítico superior uma pequena
escultura antropomórfica representando uma mulher de seios fartos e ventre
saliente, com cerca de 11 centímetros e esculpida em calcário, que ficou conhecida
como a “Vénus de Willendorf”, por se supor que fosse um objeto de culto de
alguma forma ligado à fertilidade e aos seus rituais. Esta pequena escultura representa,
desde logo, a capacidade do Homem de passar da criação de utensílios próprios
para a execução de tarefas básicas de sobrevivência como caçar, quebrar e lascar
pedras e ossos ou apanhar frutas das árvores, por exemplo, para uma utilização
ritual, baseada numa abstração imaginativa, já não meramente utilitária, mas
ritualística o que lhe confere uma qualidade mais próxima do pensamento e da
imaginação do que meramente da função e da luta pela sobrevivência.
Conforme nos explica Fernand
Braudel na sua “Gramática das Civilizações” o termo civilização afirma-se em
oposição à barbárie: «de um lado, os povos civilizados, do outro os povos
selvagens, primitivos ou bárbaros.» Neste sentido, e é também o próprio
Braudel quem o diz, civilização e cultura são, de certa forma, alegres companheiros
na viagem da História, percorrendo lado a lado, como D. Quixote e Sancho Pança,
a viagem temporal, o itinerário específico, que nos transporta desde os tempos
primitivos das cavernas do paleolítico até aos grandes salões intelectuais da
Europa moderna e contemporânea. Para Braudel as civilizações são um conjunto de
manifestações culturais, societais, económicas, psíquicas, em interação umas
com as outras e com o meio, físico, onde se inserem e que as rodeia, sendo que
a religião, ou a mentalidade, é o “cerne das civilizações”. Como explica
Braudel «em todas as épocas, há uma certa representação do mundo e das
coisas, uma mentalidade colectiva dominante, que anima, penetra toda a massa da
sociedade. (…) Quase sempre as civilizações são invadidas, submergidas pelo
religioso, pelo sobrenatural, pelo mágico; sempre viveram aí, sempre aí foram
buscar as mais poderosas motivações do seu psiquismo próprio.» A
civilização é, assim, a capacidade de formulação de uma determinada ideia e conceção
do mundo, uma projeção, talvez mesmo uma narrativa, do contexto e do lugar do
Homem no Tempo e no Espaço, podendo, por isso, ser definida por um elemento
singular e particular, diríamos que a partícula inicial, o bosão de Higgins de
toda a civilização, que é – a Linguagem.
Se é difícil determinar a origem da
civilização, é ainda mais ou, pelo menos, igualmente difícil, estudar e apontar
a origem da linguagem, tanto que o problema foi apodado como o “mais difícil
problema da ciência”, desde logo por ser impossível comprová-la com evidências,
o pensamento e a sua formulação, em linguagem, são do domínio do etéreo, do
transcendente, fora da materialidade concreta da evidência científica e da
prova física. O Verbo, em boa verdade, não é fossilizável. De qualquer forma,
mesmo perante este aparentemente intransponível obstáculo as teorias modernas
mais consensuais apontam para que a linguagem tenha surgido em ligação estreita
com o surgimento dos chamados traços da “modernidade comportamental”, um
conjunto de formulações e características que distinguem o Homo sapiens
atual dos restantes hominídeos, nomeadamente: a capacidade para o pensamento
abstrato, a profundidade e complexidade do planejamento, o comportamento
simbólico expresso pela arte, a ornamentação, a musica e a dança, e a
tecnologia representada pelo fabrico de lâminas e outros tipos de utensílios
para a caça e outras atividades, algo que, de acordo com a Teoria da Origem
Recente Africana, terá acontecido no Paleolítico Médio, há sensivelmente
200 000 anos, no sul do continente africano. Muitos milhares de anos antes
da escrita cuneiforme, dos primeiros papiros, de Homero, Ovídio, São Paulo e
Santo Agostinho, Dante, Guttenberg, Camões, Cervantes, Shakespeare, Milton,
Whitman, Proust ou Pessoa.
Perdoar-me-ão este relativamente
longo introito, mas a ideia de um Clube de Leitura, congregado nos claustros
monásticos de uma Biblioteca Pública, antigo convento jesuítico, e o simpático
convite que me foi endereçado pela Dra. Iva Matos para que viesse animar uma
das suas sessões, remeteu-me imediatamente, como um redemoinho do pensamento,
para a importância dos livros e o seu valor e papel na História das Ideias e,
por sinédoque, na História dos Homens ou, para usar a expressão de Braudel, na própria
“Gramática das Civilizações”. Refletindo sobre a matéria veio-me imediatamente
à mente o portentoso livro de Irene Vallejo, “O Infinito num Junco”, uma
brilhante elegia pela leitura, pela literatura e, em particular, pelo objeto
físico do livro e a forma como transporta em si, através do tempo e do espaço, dos
rolos de papiro aos codex medievais e aos milhares de paperbacks vendidos hoje
nas lojas dos aeroportos, a luz da Linguagem. Não querendo sobrecarregar os
membros deste Clube com uma tarefa tão árdua e dramática como a de ter de
consumir as suas mais de 400 páginas em poucos dias, veio-me à memoria um outro
livro, um pequeno opusculo de George Steiner, que li há já quase vinte anos,
intitulado “O Silencio dos Livros” que é, então o, tomo que vos sugiro aqui.
Escrito originalmente em 2005, como
um artigo para a conceituada revista francesa “Esprit”, com o título “O Ódio ao
Livro”, este curto ensaio, cujo tema principal é a inata fragilidade do livro e
da leitura, não só pela sua vulnerabilidade ao tempo e aos seus desmandos,
como, também, pela permanente ameaça que o próprio Homem impõe sobre as ideias,
das quais os livros são os principais portadores, “O Silêncio dos Livros” acaba
também por ser, e é esta a ideia que gostaria de partilhar e discutir convosco,
uma ode ao mais profundo e ancestral património da Humanidade e da Civilização,
de todas as civilizações, que são o pensamento e a linguagem e a sua expressão
mais pura, que é – a Oralidade. Como nos diz Steiner, numa imagem, julgo eu,
particularmente feliz «a escrita constitui um arquipélago na imensidade
oceânica da oralidade humana.» De certa forma, esta mesma reunião, de um
Clube de Leitura, onde um grupo de pessoas se sentam em círculo, em redor de
uma mesa ou, imaginemos nós, em torno de uma fogueira, para falar sobre um
livro, está mais íntima e ancestralmente ligada aos primórdios da civilização
humana do que com o surgimento desse objeto a que chamamos livro. Uma espécie
de regresso fictício ao mais profundo mistério das cavernas primordiais onde a
chama do imaginário ilumina as sombras do pensamento. Ainda citando Steiner «(…)
os mais antigos fragmentos datados da Bíblia dos Hebreus são tardios, muito
mais próximos do ‘Ulisses’ de James Joyce do que das suas próprias origens, que
se relacionam com o canto arcaico e a narrativa oral.» Ou seja, embora a
principal preocupação de Steiner ao escrever o seu ensaio fosse as ameaças contemporâneas,
cuja genealogia histórica nos aponta ao longo do texto, ao livro e à leitura,
“O Silêncio dos Livros” acaba, também, por ser um cântico de esperança pela
sobrevivência da literatura, seja ela ficcional ou ensaística, pela via da
sempre presente, e eterna na eternidade do Homem, oralidade que se sustenta no
pensamento. «A escrita – e não vale a pena determo-nos nos diferentes
formatos que o livro foi assumindo», isso fará, e de forma brilhante, Irene
Vallejo em “O Infinito num Junco”, «configura um caso à parte, uma técnica
específica de entre um todo semiótico maioritariamente oral. Milhares de anos
antes do processo de desenvolvimento de formas escritas já se contavam
histórias, já se transmitiam por via oral ensinamentos de caracter religioso e
mágico, já se compunham e se transmitiam formulas encantatórias de amor, ou
então anátemas.» Embalados pelo ritmo pulsante do coração humano, ou pelo
passo cadenciado da migração, do pé ante pé da caminhada humana, os primeiros
homens compuseram cânticos e criaram poemas e partilharam em canções e
histórias «sentimentos e significações.» Como nos diz Steiner: «A
maior parte das pessoas não lê livros. Porem canta e dança.» Ou, de forma
ainda mais contundente e, quiçá, irónica: «a nossa herança intelectual e
ética, (…) vêm-nos de Sócrates e de Jesus de Nazaré. Nenhum deles, contudo, fez
questão de ser autor e muito menos de ser publicado.»
Não pretendo ser mal interpretado
ou tido como deselegante nesta apologia da oralidade num lugar de silêncios,
uma Biblioteca. Tal como Steiner, também eu, nutro um amor puro, como
certamente todos os membros deste Clube, pela leitura e pela sua mais direta
forma de consumação, que é o livro. Mas, talvez o mais importante a reter,
neste tempo de rápida e asfixiante digitalização e de cada vez maior domínio
das linguagens imagéticas em detrimento da escrita e da leitura, é que na antecâmara
da literatura e na génese da escrita está a capacidade inata do ser humano de
criar e formular ideias e palavras e que essa será sempre a base de toda a
civilização. Tão, ou mais importante, do que o instrumento da comunicação, seja
um livro, um texto, ou uma imagem e um som, é a comunicação em si, a troca e a
partilha de ideias, sensações e emoções, que são a essência do Humano. E, que
se consubstanciam em reuniões e lugares como este.
Como pai sou confrontado constantemente
com o alheamento das minha filhas face à leitura, os livros são para elas um objeto
entediante, quase arcaico, incapaz de lhes conquistar a atenção face à atratividade
e enleamento das imagens, seja nos telemóveis, nas redes sociais, ou na TV, os
filmes, ou as séries da Netflix. Recentemente até a Escola aboliu para a minha
filha mais velha, com apenas 13 anos, os manuais escolares, que eram ainda a
única e solitária forma das crianças lidarem, no seu dia-a-dia, com o papel e
as folhas e as páginas impressas, acentuando-se assim, ainda mais, o
distanciamento dos jovens com o texto, a escrita e, essencialmente, o tempo e o
esforço da leitura. Aquela relação íntima e simbiótica entre o leitor e o texto
e deste com o escritor que Steiner descreve como «o texto implica, entre o
autor e o respectivo leitor, a promessa de um sentido.» A aproximação à
Verdade, que se esvai assim no desenrolar hipnotizante das imagens nos ecrãs
luminescentes que nos rodeiam ofegantemente.
Porém, como nos explica Steiner e
Irene Vallejo, também, as ameaças ao livro sempre existiram, caminharam, aliás,
lado a lado com a criação de grandes Bibliotecas, com os seus exércitos de
escribas, ou copistas e tradutores. Do outro lado da mesma moeda os incêndios,
as cheias e a loucura ou a raiva dos homens acentuaram sempre a fragilidade e perecibilidade
dos suportes escritos das palavras. Desde os conquistadores muçulmanos de
Alexandria, aos militares sérvios que bombardearam a biblioteca de Sarajevo,
passando pelos censores, o Index Librorum Prohibitorum da Inquisição, ou
passando ainda pelos extremistas ideológicos do nazismo ou do estalinismo, ou
até mesmo das fatwas estéticas e filosóficas que ditaram, de uma forma ou de
outra, ao longo da História moderna, o fim do diferente e a destruição do
inimigo, fosse ele um escritor ou um livro. Como diz Steiner: «ao longo da
História, os livros foram sendo sempre lançados para a fogueira.» E, com
eles, alguns escritores também.
A este propósito permitam-me que
resgate da memória, “a mãe de todas as musas”, outra obra fundamental. «Queimar
era um prazer», é com estas palavras que Ray Bradbury começa o seu sensacional
e talvez presciente romance “Farenheit 451” – «a temperatura a que um livro
se inflama e consume…» Embora muito marcado pelo ambiente político do seu
tempo, publicado em 1953, o subtexto do romance é uma critica à censura
ideológica e política do Macarthismo, o romance é, também, um hino à literatura
e ao papel fundamental dos livros na perpetuação de uma certa ideia de
Humanidade. Montag, a personagem principal do livro, é um bombeiro, numa
inversão metafórica do próprio sentido, cuja missão é queimar livros. Numa
sociedade distópica em que os livros são considerados inimigos da felicidade e
onde os resistentes, os excluídos, os ostracizados, se tornam eles próprios
livros-humanos guardando na sua memória os textos mais adorados. Alguém é “A Republica” de Platão, outro “As
Viagens de Gulliver”, Montag poderá tornar-se “O Livro de Eclesiastes”, tal
como outros serão Aristófanes, Ghandi, Confúcio, Marx, Thomas Jefferson, ou
Mateus, Marcos, Lucas e João. «Somos igualmente incendiários de livros.
Lemos os livros e queimamo-los, com medo que alguém os descubra. (…) O melhor
será guardar tudo na memória, onde ninguém irá procurá-los. Somos todos constituídos
por pedaços, extractos de história, de literatura, de direito internacional,
Byron, Tom Paine, Maquiavel, Engels, Cristo, tudo está registado.» Há algo
de profundamente maravilhoso e poético nesta ideia de cada pessoa ser um livro,
de cada um de nós poder, não só, guardar dentro de si a memória de um livro,
como, também, de ser pela sua vida e através da oralidade um outro livro a
partilhar com os demais. Será essa, no fundo, a verdadeira eternidade da
literatura, muito para lá da morte física do livro enquanto matéria, a sua
eternidade na memória, seja ela individual ou coletiva e na forma como a
literatura se imiscui na própria intertextualidade do tempo, no “ar do tempo”,
e no “inconsciente colectivo” para usar a formulação de Carl Jung, em
que todos vivemos.
Regressando ao “Silêncio dos
Livros”, no outro ensaio que acompanha Steiner, o ensaísta francês Michel Crépu
remete-nos para Proust e o seu gargantuano “Em Busca do Tempo Perdido” e indica-nos
que «existe um caminho que leva do jardim de Combray ao triunfo da Arte
sobre a morte.» Em “Esse Vício Ainda Impune”, Crépu, resgata a obra, com o
mesmo título, do escritor modernista francês Valery Larbaud e a sua teoria de
como a literatura é, tal como para o narrador de Proust, que ambiciona tornar-se
escritor, uma porta para a eternidade, uma via de superação sobre a própria
morte. O gigantesco romance de Proust tornou-se num dos mais significativos livros
do nosso tempo encerrando nas suas mais de 3 200 páginas divididas em 7
volumes os múltiplos significados e singularidades da vida humana. Uma grande
pintura, um fresco, daquilo que é “A Condição Humana” como lhe chamaria Hannah
Arendt numa fixação autoral e autorizada que só os grandes criadores são
capazes de fazer.
Harold Bloom, um dos mais
importantes críticos literários do nosso tempo, criou a teoria da “Angústia da
Influência”, que sugere que em cada momento, cada grande escritor, se encontra
em luta com os seus predecessores e sucessores numa luta interior pela primazia
no cânone literário. Para Bloom é Shakespeare o vértice superior desta pirâmide
de criação literária sendo ele o mais inventivo e completo escritor da
história, Bloom irá mesmo ao ponto de considerar Shakespeare o “inventor do
humano”. Ora, nesta batalha da angústia da influência os escritores
debatem-se não só com as suas próprias leituras, mas também com a literatura
como um todo, como um imenso corpo sobrenatural, um monstro ou uma estrela de
luz eterna, conforme a perspetiva de cada um, mesmo a que há-de vir, que ainda
se esconde nas sombras do futuro, pressupondo quase uma leitura subconsciente, numa
visão jungiana, que está presente na matéria impalpável da imaginação, num
reino para lá da matéria e acessível apenas pela pena do pensamento e,
possivelmente, do canto doce da oralidade ou da escrita. É também isso que, de
certa forma, nos sugere Crépu na omnipresença cultural de um romance tão vasto
e assoberbante como o “Em busca…”, que poucos hoje terão a disponibilidade e,
ironicamente, o próprio tempo para ler, mas que faz parte, assim mesmo, da
nossa herança cultural coletiva. Hoje essa ambição transcendente do escritor de
abarcar a totalidade da vida é representada pela obra do escritor norueguês Karl
Ove Knausgard, um enorme épico de 6 volumes e, também, mais de 3 000 páginas
intitulado “A Minha Luta”, onde Knausgard conta, ficcionada ou não, a história
da sua vida partindo do momento em que a escreve, aos 40 e poucos anos, entre
os anos de 2009 e 2011.
No fundo, o amor pelos livros é tão
só um instrumento para a árdua tarefa da Vida, uma enxada para lavrar o solo
fértil do pensamento onde germinam e crescem as flores da imaginação e da
poesia e que invade, como um odor que se espalha por um campo florido levado pela
brisa primaveril, o espírito e a mente de leitores e não-leitores e todos os
tipos de escritores. O que nos sugerem Steiner e Crépu, o que Vallejo descreve
com inigualável mestria, o que liga como uma argamassa de éter o cânone de
Bloom, é essa magia que se transporta e que nos transporta entre a Vida e a
Arte, entre o real e a ficção, e que tem nos livros a sua barca, as suas velas,
o seu navio velejando no oceano não já só da oralidade, mas da linguagem e do
pensamento.
Em 1994, aos 71 anos, Jorge
Semprún, então já um aclamado romancista, guionista e intelectual franco-espanhol
publica, nas prestigiadas edições Gallimard, e como são importantes as editoras
e os editores, os bons editores, um livro intitulado “L’Ecriture ou la Vie”,
uma espécie de objecto híbrido entre a memória autobiográfica, o romance ficcional
e o ensaio histórico, escrito na primeira pessoa, sobre a passagem de um homem,
ele próprio, pelo mais profundo campo do horror e da morte – o campo
concentracional nazi de Buchenwald. Filho de um diplomata, vivendo em Paris, membro
do partido comunista e da resistência francesa, em 1943 Semprún é denunciado e preso
pela Gestapo sendo transferido para o campo de concentração de Buchenwald, no
centro oeste da Alemanha a poucos quilómetros da bela Weimar de Goethe e aonde
ficará detido até 1945 quando as tropas de Patton libertarão os prisioneiros sobreviventes
do campo. “A Escrita ou a Vida” é um relato da batalha de um escritor com a
morte, não apenas a morte concreta e omnipresente do campo de concentração, mas
a morte metafísica da escrita num lugar sem livros, sem leitores, onde a
escrita é apenas mental e a leitura memória e oralidade e desejo, ou sonho, se
é que é possível sonhar na escuridão das «sombras impassíveis e mudas»
dos que já não vivem. Em todo o livro, por onde de certa maneira, passam também
todos os outros escritores com que Semprún se debate na sua angústia blooomiana,
de André Gide, a Cesar Vallejo, de Bakunine a Goethe, de Proust, sempre Proust,
que Semprún também confessa que não leu, que nunca precisou de o ler porque o conhece
intimamente, como se de um familiar se tratasse, há uma teia de pensamento e de
memória, um encadear sucessivo da matéria da história que liga Semprún, que nos
liga a todos, desde a origem da própria História, da Itaka de Ulisses aos pedintes
de Brecht ou aos clássicos de Italo Calvino, num ensejo de superar a própria morte.
Steiner, tal como Semprún e Harold Bloom,
são representantes últimos de uma espécie em vias de extinção, a do grande
intelectual europeu e ocidental. Homens de uma craveira e erudição acima da
média, com vidas inteiras dedicadas à academia, à vida pública e, principalmente,
à leitura, baseando a sua participação cívica numa profunda humanidade construída
nas fundações da tradição cultural e civilizacional judaico-cristã. Curiosamente,
os três nasceram na década de vinte do século passado e viveram as agruras
dessa Era que o historiador inglês, Eric Hobsbawm, chamou “dos Extremos”.
George Steiner, nascido em paris em 1929, filho de uma família de judeus austríacos,
com o alvor do nazismo, Steiner emigra, com a sua família, para os Estados Unidos
da América, onde viria a fazer a sua carreira como ensaísta, critico, filósofo
e professor de línguas e literaturas nas mais prestigiadas universidades
americanas e europeias. De entre a sua vasta obra destacam-se volumes como: “No
Castelo do Barba Azul”; “Gramáticas da Criação” e “Lições dos Mestres”. George
Steiner faleceu em 2020 aos 91 anos. Harold Bloom, também ele de origem
judaica, nasce em Brooklyn, Nova York em 1930 e viria a falecer, com 89 anos,
em Outubro de 2019, escassos cinco meses antes de Steiner. Considerado o mais
importante e proeminente critico literário do seu tempo Bloom dedicou toda uma
vida ao estudo e divulgação do cânone literário ocidental, um grande corpo
literário, que para Bloom, constituía a base da nossa cultura e civilização. Tal
como Steiner, Bloom foi um dos mais fervorosos contestatários do politicamente correto
e daquilo a que chamou “as escolas do ressentimento”, assinalando com
particular acutilância a ameaça que essa ditadura das ideologias minoritárias apresenta
para a cultura liberal ocidental baseada nos pilares da liberdade individual e
da tolerância. Jorge Semprún o mais
velho dos três, nasceu em Madrid, em 1923, no seio de uma família abastada de políticos
e diplomatas espanhóis. Com uma vida dedicada à política, à literatura e ao cinema,
foi membro ativo desde 1942 do partido comunista espanhol, desafiou o franquismo
e o nazismo, viria a ser Ministro da Cultura de Espanha, entre 1988 e 1991, no segundo
Governo de Felipe Gonzalez. No cinema colaborou como argumentista em mais de
uma dezena de filmes com realizadores como Alain Resnais, Costa Gravas e Joseph
Losey. “A Grande Viagem” foi o seu primeiro romance e o mais aclamado,
escreveria mais cerca de vinte livros dos quais “O Regresso de Netchaiev”; “Autobiografia
de Federico Sanchez” e “O Adeus de Federico Sanchez”, o seu nome na
clandestinidade, e “A Escrita ou a Vida”, são os mais significativos. Semprún morre
em Paris, em 2011, com 88 anos. Jorge Semprún foi me apresentado pela minha avó
materna, Leonor Arruda, que era, ela própria, uma leitora avida e insistente,
apreciadora de vários géneros, da prosa à poesia, e, por força do coração, fora
casada com um espanhol, uma devota apaixonada pela literatura de España.
Os livros, como toda a Arte, são
pequenas perolas de pensamento no oceano da vida, frágeis e humanas tentativas
de superar a eternidade da morte. Mas, tal como para Proust, ou Semprún, tal
como para Steiner, ou para cada um de nós, tal como para mim que agora aqui escrevo
estas palavras, ou para as minhas filhas que no futuro encontrarão outras forma
de leitura, o que fica, o que é verdadeiramente importante, e que nos separa da
barbárie que se esconde nos calabouços selvagens da alma, são as ideias, a luz
e a estrela do pensamento e da linguagem, é esse o fio de Ariadne que nos guia
no labirinto da civilização, desde há milhares e milhares de anos, até um futuro
que outros ousarão imaginar e conhecer. Porque se “a memória é a mãe das
musas” é a imaginação que dá à luz o Verbo. E, nós, leitores e escritores,
livros e amantes dos livros somos os guardiões, os bibliotecários, dessa infinita
Luz que deu e dá origem a tudo…
Pedro Arruda
Vila Franca do Campo, Dezembro de
2022